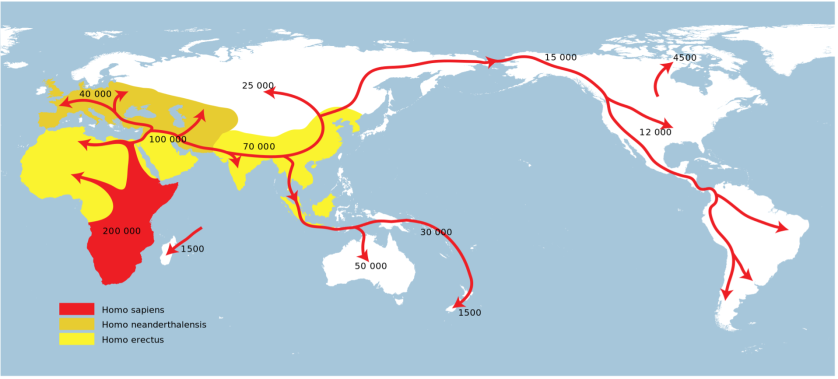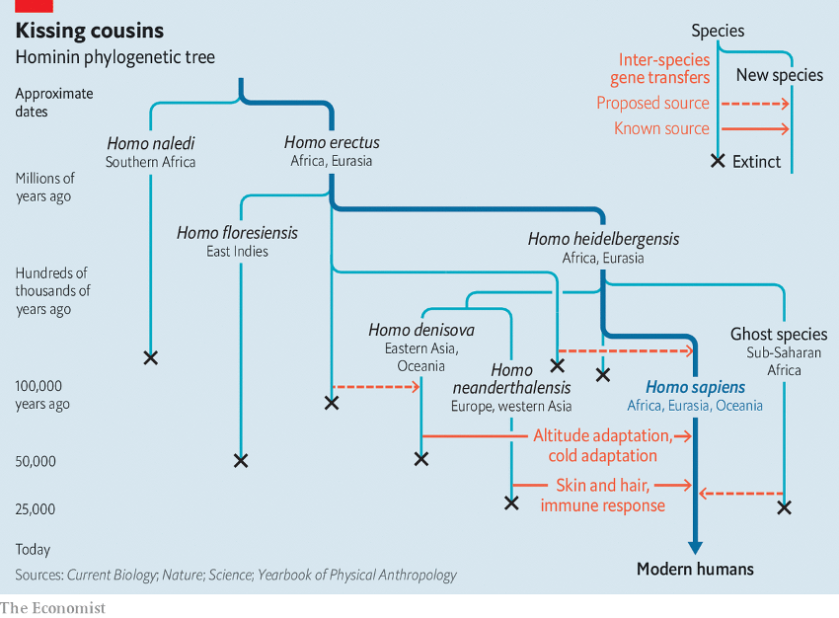A genômica –o estudo do conteúdo de genomas—é uma aliada valiosa da medicina. Há inúmeras condições que afetam pessoas que são desafiadoras para fazermos diagnósticos com base somente em dados clínicos. Nesses casos, a detecção de uma mutação num gene específico pode contribuir para chegar a uma conclusão sobre um diagnóstico, identificar uma possível síndrome que acometa a pessoa e, dessa forma, ajudar o paciente e a família a planejar os cuidados e a conduta necessária. Contudo, nem todas as doenças beneficiam-se de análises genômicas, pois muitas tem uma base genética dita “complexa”, em que não há uma alteração genética que, individualmente, tenha um grande efeito. Além disso, muitas destas condições envolvem importantes influências ambientais. Para doenças como essas, que incluem a maioria das formas de diabete e doenças vasculares (para citar duas das que acometem o maior número de pessoas), a contribuição dos dados genômicos para o diagnóstico é geralmente bastante modesta.
Em paralelo aos desafios de implementar formas eficientes de usar a genômica na clínica médica, a última década assistiu à proliferação de testes genéticos entregues direto aos consumidores, muitos dos quais se propõem a atender a outros tipos de demanda: ajudar na vida amorosa, contribuir para desempenho esportivo, ou medir sua inteligência. Nesses casos, será que a genômica é capaz de entregar o que promete?
Comecemos pela www.soccergenomics.com, que se propõe a “libertar o jogador que existe dentro de você”. Com ela fará isso? Através de um “Teste de DNA de futebol”. Esse teste, de acordo com o site, lhe dará seu “relatório de futebol exclusivo”, que foca em atributos como “velocidade”, “resistência” e “flexibilidade”, entre outros. O relatório pontua o seu “desempenho genômico” para esses atributos. Assim, um cliente com “alto risco de lesão”, revelado a partir dos dados genômicos, será orientado a fazer treinamentos específicos. O relatório a seguir lista alimentos indicados, com base no perfil genômico (e consequente capacidade de metabolizar diferentes nutrientes e fontes de energia).
A DNAromance.com propõe-se a oferecer um serviço de “online dating” que seja “baseado em ciência”. O site anuncia que o serviço prevê a “química romântica entre pessoas usando marcadores de DNA que desempenham um papel na atração entre pessoas”. A geneparter.com vai na mesma linha, incluindo em seu site propaganda de seu algoritmo, que seria supostamente capaz de “determinar o nível de compatibilidade genética da pessoa em quem você está interessado”. Eles afirmam que “a probabilidade de relacionamentos amorosos de sucesso e de longa duração é maior em casais com alta compatibilidade genética”, definindo compatibilidade genética como aquilo que gera “um raro sentimento de química perfeita”. O que explicaria tal química? Seria “a resposta acolhedora do corpo quando sistemas imunes entram em harmonia e encaixam-se bem um ao outro”.
Será?
Vamos dar um passo atrás e nos perguntar: Há boa ciência sendo feita sobre a contribuição da genética para desempenho esportivo ou para atração entre pessoas?
Sim: bons cientistas, fazendo pesquisa séria, se debruçam sobre essas questões. Esses são temas legítimos e interessantes, que caem no domínio da genética humana e da biologia evolutiva. Sobre o desempenho atlético, alguns estudos identificaram variantes genéticas associadas à capacidade esportiva de alto desempenho. Muitas envolviam genes que contribuem para a formação de fibras musculares ou funcionamento das mitocôndrias, as organelas responsáveis por produzir as moléculas que constituem nossa fonte de energia química. Porém, há ressalvas: muitos desses achados não foram confirmados em estudos subsequentes. Além disso, vários achados resultam de estudos feitos em apenas uma região do mundo e que tiveram como foco atletas de alto rendimento. Consequentemente, é pouco provável que a variação genética analisada num jovem boleiro tenha a especificidade necessária para orientar sua estratégia de treinamento.
No caso da atração sexual, também há uma rica história de pesquisa séria. Em particular, genes do sistema imune chamados de HLA (ou antígenos leucocitários) contribuem em vários animais para sua capacidade de reconhecimento de parceiros, e há indicação de que ratos, camundongos e peixes são capazes de escolher parceiros com base no grau de dissemelhança genética em genes HLA. Por que as diferenças nesses genes seriam atrativas? O argumento é que a atração entre diferentes aumenta a chance de o filhote carregar uma diversidade maior de genes HLA (as diferentes versões contribuídas por cada um dos progenitores). Sendo o HLA um conjunto de genes que estão associados à resposta a patógenos, a diversidade maior num indivíduo seria vantajosa, pois aumentaria o espectro de patógenos dos quais ele pode se defender. Assim, a atração entre “diferentes” se justificaria –do ponto de vista evolutivo– pelos benefícios conferidos a uma eventual prole.
Mas os estudos com genes HLA encontraram de tudo: mulheres suíças preferem odores de homens com genes HLA diferentes dos que elas possuem; casais israelenses que têm diferenças genéticas nos genes HLA maiores do que pares que não são casais; mas também casais japoneses que não têm diferenças em genes HLA maiores do que pares que não são casais; ausência de diferenças aumentadas entre genes HLA numa amostra de mais de 3000 casais de diversas regiões do mundo; finalmente, há uma meta-análise (um estudo que reúne e interpreta vários outros estudos) afirmando que não há “nenhuma associação entre dissimilaridade em genes HLA e escolha de parceiros” e também que “o efeito de diferenças em genes HLA sobre a satisfação no relacionamento não foi significativa”.
Nenhum desses estudos sozinhos crava o papel da genética na escolha de parceiros em humanos como algo bem estabelecido. Tampouco, os resultados negativos indicam que é uma hipótese implausível que não merece ser estudada mais a fundo, com amostras maiores. Aqui, parece que seguiremos tendo que conviver com a dúvida. Em ciência – na verdade, em todo e qualquer conhecimento sobre o mundo – conviver com a dúvida é algo recorrente. A ciência toma a dúvida como um de seus motores: o planejamento de novos estudos muitas vezes é guiado para resolver questões que estudos anteriores não puderam resolver.
O problema, entretanto, é que a transformação de um ensaio genético em mercadoria vale-se de uma caricatura da ciência. As páginas de todos os sites citados acima estão repletas de referências a artigos e vangloriam-se de vender um produto ancorado na ciência. Porém, estão vendendo como conhecimento sólido e apoiado de maneira consensual algo que, na realidade, ainda é muito especulativo (o grau de importância da genética para atração em humanos) ou relevante para casos muito específicos, e não o público geral (o papel da genética no desempenho de alto rendimento).
Essa “forçada de barra” para promover um uso aparentemente lúdico da ciência, que parece servir como entretenimento, pode parecer inocente. Contudo, mais do que iludir os consumidores, esse uso da genômica reforça a ideia de que diferenças genéticas têm um papel primordial em definir quem você é, o que lhe atrai, qual seu potencial. Ela sinaliza que há em genes mais informação sobre o que lhe atrai numa pessoa do que em sua história de vida, um convite às avessas para o auto-conhecimento. Ele terceiriza até mesmo o sonho da posição em que um atleta quer jogar no time de futebol da escola, colocando ênfase muito longe das influências culturais e das referências pessoais que acompanham nossas vidas.
Num mundo em que as forças do mercado já influenciam de modo tão marcante a música que ouvimos, os filmes que vemos, a comida que comemos, o tratamento médico ao qual recorremos, eis que uma nova frente se abre. É o mercado promovendo a genética como um suposto elemento chave para desvendar o que nos atrai e para guiar nossos sonhos boleiros de criança.
Esse olhar da genética não parece enriquecer nossas vidas, nos trazer prazer, nos fazer refletir sobre nossos sonhos e desejos. Tampouco enfatiza a realidade biológica que conhecemos bem, que é o da importância de fatores ambientais em nossas escolhas e habilidades. Parece apenas uma genômica caça-níquel. É fruto de uma mercantilização da ciência, à qual infelizmente vários cientistas também aderem, uma busca que é menos por entendimento do que por mercadorias, por vezes mesmo às expensas da compreensão mais correta dos fenômenos. Genes não são destino e somente ignorando a complexidade do desenvolvimento e da experiência os testes genéticos podem se pôr a rivalizar com os videntes cujas propagandas vemos nos postes de nossas cidades, nesse tipo de vidência genômica.
Diogo Meyer
Universidade de São Paulo
Charbel Niño El-Hani
Universidade Federal da Bahia
Para saber mais
Richard Lewontin. “A tripla hélice: gene, organismo, ambiente”. Companhia das Letras, 2002.
Hans Radder. “The Commodification of Academic Research: Science and the Modern University”. University of Pittsburgh Press, 2010.