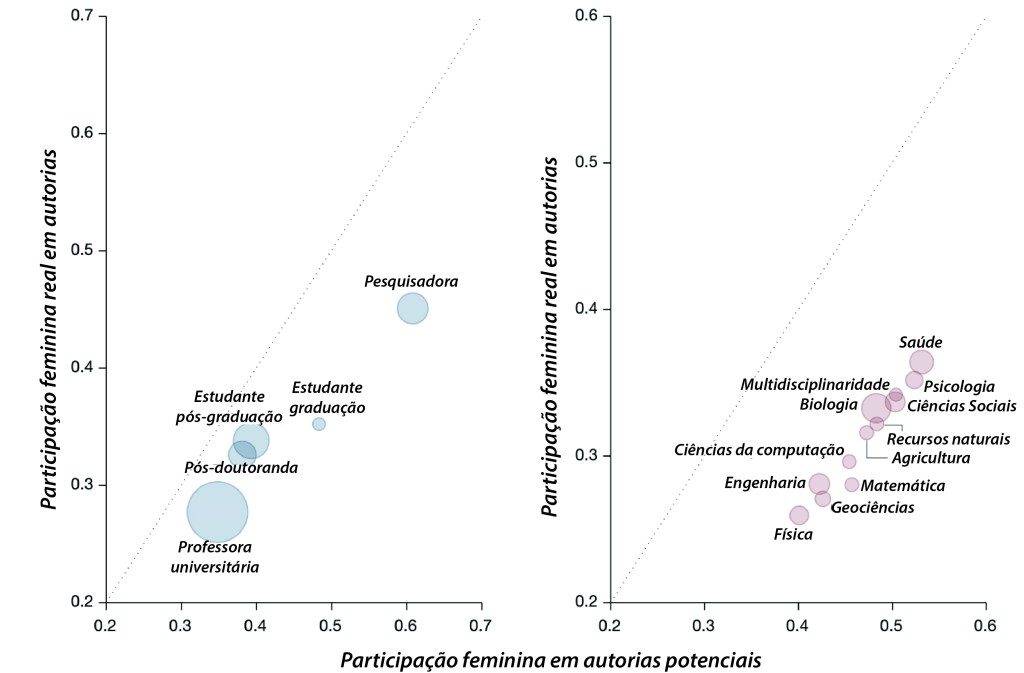O estudo da degradação da Amazônia, para além do desmatamento, revela o impacto significativo das ações humanas sobre a degradação florestal e alerta para as consequências desastrosas, a curto, médio e longo prazo.

Foto: Jonathan Lewis, Wikipedia.
No final de janeiro desse ano, uma das revistas científicas mais influentes da atualidade dedicou a sua matéria de capa ao desmatamento da Amazônia. A foto escolhida para a capa destaca o contraste chocante entre o verde da floresta e o marrom-verde-acinzentado das áreas desmatadas para uso humano. Esse número da revista traz dois artigos de revisão que destrincham as causas e consequências do desmatamento, assim como o ritmo atual de degradação da floresta (acesse esses artigos aqui e aqui). Juntos, esses artigos têm a coautoria de mais de 40 pesquisadores do Brasil e do mundo. E é a alguns dos principais pontos discutidos nessas revisões que dedicarei esse post.
Faz tempo que cientistas chegaram a um consenso a respeito do papel ecológico da Amazônia. A região amazônica, com sua incrível floresta e seus vários ecossistemas associados, contribui significativamente para o clima, a biodiversidade, o bem estar e a sobrevivência das comunidades locais e da humanidade de forma global. Além disso, florestas tropicais são locais importantes para a dinâmica do carbono, comportando-se como emissoras de carbono, especialmente quando submetidas ao desmatamento, ou como armazenadoras de carbono. Por exemplo, a Amazônia armazena aproximadamente 180Gt de carbono, na forma de biomassa vegetal e nos solos, o equivalente a 26% de todo o carbono emitido para a atmosfera por atividades humanas desde a Revolução Industrial (entre 1750 e 2020). A real dimensão da importância ecológica da floresta pode também ser entendida com a ajuda de uma simples métrica: riqueza de espécies. A Amazônia é, sem dúvida, o ecossistema de escala subcontinental mais rico do planeta: ela abriga cerca de 1/3 de todas as espécies conhecidas, incluindo mais de 10% de todas as espécies conhecidas de plantas e vertebrados, concentradas em apenas 0,5% da superfície terrestre. Isso sem contar as milhares de espécies ainda desconhecidas para a ciência.
Mas, junto com as calotas polares e os recifes de coral, a Amazônia está entre os maiores ecossistemas em rápida mudança em direção a um estado de degradação. Há inclusive aqueles que argumentam que já ultrapassamos esse limite. Embora o desmatamento esteja diretamente relacionado à derrubada da floresta em si e à utilização da área desmatada para outros fins, a degradação ambiental não requer, necessariamente, a derrubada da floresta. Alguns outros distúrbios que resultam em degradação ambiental incluem, por exemplo, os efeitos de borda, a extração seletiva de madeira, as queimadas e as secas severas decorrentes das mudanças climáticas. Eles resultam em mudanças deletérias, transitórias ou permanentes, nas funções, nas propriedades ou nos serviços ecossistêmicos, como alterações na reserva de carbono, na produtividade biológica, na composição de espécies, na estrutura da floresta, na umidade atmosférica, assim como nos usos e valores da floresta para os humanos. Apesar de a maior parte dos estudos na Amazônia até então focar especificamente no desmatamento, a degradação e o desmatamento são processos independentes e suas causas e consequências precisam ser cuidadosamente estudadas. Só assim, os cientistas argumentam, teremos um panorama mais claro tanto em termos das propostas e prioridades de conservação e manejo da floresta, quanto em termos da modelagem da resiliência da floresta frente a variados impactos.
A análise aprofundada da degradação da Amazônia para além do desmatamento, entre os anos de 2001 e2018, aponta para o fato de que 5.5% da floresta está sofrendo algum tipo de distúrbio ou degradação, o que corresponde a mais do que 110% da área desmatada durante o mesmo período. Quando secas extremas são incluídas na análise, o total de áreas degradadas chega a 38% da floresta remanescente. E, se somadas ao longo das décadas, a perda de carbono para a atmosfera decorrente da degradação da Amazônia pode ser equivalente ou até maior do que aquela diretamente decorrente do desmatamento. As projeções iniciais para 2050 apontam que os distúrbios, principalmente decorrentes da ação humana na Amazônia, continuarão a ter grande impacto na degradação da floresta e contribuirão para o aumento da quantidade de carbono na atmosfera, de forma independente da trajetória do desmatamento. Além disso, muitos desses distúrbios têm efeitos de longa duração. Por exemplo, a mortalidade de árvores e consequente liberação de carbono para a atmosfera resultante da degradação da floresta pode ocorrer durante décadas após o distúrbio inicial.
A Figura 1 compara as dimensões espaciais e temporais de mais de 50 atividades humanas e processos naturais de escalas mundial e regional (América do Sul). Claramente, as atividades humanas atingem escalas espaciais semelhantes aos processos naturais de maneira mais rápida. Considerando que o gráfico da Figura 1 está em escala logarítmica, a velocidade das atividades humanas é maior do que aquela dos processos naturais em algumas ordens de magnitude! Essa capacidade de ação rápida e em larga escala de muitas atividades humanas é o que resulta, em muitos casos, em degradação ambiental, pois os processos naturais de regeneração e resiliência não operam na mesma velocidade.

Figura 1: Escalas temporal e espacial das atividades humanas e dos processos naturais, ambos de repercussão global. As atividades humanas, tanto em escala mundial quanto regional (América do Sul), ocorrem em taxas muito maiores do que os processos naturais. A velocidade e a dimensão das atividades humanas são maiores do que a capacidade de recuperação ambiental por processos naturais. Modificado a partir de Albert, J.S. et al. Science 2023.
Infelizmente, os ganhos materiais a curto prazo decorrentes das principais causas desses distúrbios, como a agricultura ou a ação de madeireiras, beneficia poucos atores regionais e globais, enquanto o fardo permanece para diversos grupos sociais em várias escalas. Mas, o que fazer frente a tamanho desafio? Ambos os artigos de revisão trazem análises importantes a respeito das medidas necessárias para frearmos essa degradação. Por exemplo, enquanto alguns distúrbios, como os efeitos de borda, podem ser minimizados com o controle do desmatamento, outros distúrbios, como as secas extremas, requerem medidas que promovam o engajamento de atores globais na redução das emissões de gases de efeito estufa. Assim, as ações sugeridas pelos cientistas variam desde a necessidade de um novo enquadramento legal para lidar com o manejo e a proteção da Amazônia, até a necessidade de uma nova matriz energética de viés sustentável e com menor impacto ambiental. Os cientistas apontam também para a necessidade de identificação de ações prioritárias, assim como legislação ambiental alinhada a essas ações, além da necessidade de uma visão bioeconômica para a Amazônia que reconheça o valor da floresta em si, não apenas em pé, mas também saudável, a curto, médio e longo prazo.
Sem dúvida, a abordagem desse problema real, complexo e de proporções subcontinentais precisa levar em consideração ações diversas, nas diversas escalas local, regional e global e seus respectivos atores sociais. Mas a mensagem, unânime entre centenas de cientistas, comunidades locais e outros especialistas, é clara: as atividades humanas na Amazônia têm resultado em mudanças ambientais drásticas e muito rápidas, que não permitem a recuperação e sobrevivência desse ecossistema. A degradação da Amazônia traz impactos significativos e irreversíveis para o clima global e afeta de maneira desproporcional, ao menos inicialmente, as comunidades locais que dependem da floresta para sua sobrevivência. A médio e longo prazo, no entanto, os efeitos da degradação da Amazônia terão efeitos globais e, em muitos casos, irreversíveis.
Ana Almeida
(California State University East Bay, CSUEB)
Para saber mais:
Amigo, I. 2020. When will the Amazon hit a tipping point? Nature 578, 505-507. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00508-4
Antonelli, A. et al. 2018. Amazonia is the primary source of neotropical biodiversity. PNAS 115 (23), 6034-6039. https://doi.org/10.1073/pnas.1713819115
Franco-Solís, A; Montanía, C. 2021. Dynamics of deforestation worldwide: A structural decomposition analysis of agricultural land use in South America. Land Use Policy 109, 105619.
Radchuck, V. et al. 2019. Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient. Nat Commun 10, 3109. https://doi.org/10.1038/s41467-019-10924-4 Science Panel for the Amazon. 2021. Amazon Assessment Report 2021. Nobre C, Encalada A, Anderson E, Roca Alcazar FH, Bustamante M, Mena C, Peña-Claros M, Poveda G, Rodriguez JP, Saleska S, Trumbore S, Val AL, Villa Nova L, Abramovay R, Alencar A, Rodríguez Alzza C, Armenteras D, Artaxo P, Athayde S, Barretto Filho HT, Barlow J,
Berenguer E, Bortolotto F, Costa FA, Costa MH, Cuvi N, Fearnside PM, Ferreira J, Flores BM, Frieri S, Gatti LV, Guayasamin JM, Hecht S, Hirota M, Hoorn C, Josse C, Lapola DM, Larrea C, Larrea-Alcazar DM, Lehm Ardaya Z, Malhi Y, Marengo JA, Melack J, Moraes R M, Moutinho P, Murmis MR, Neves EG, Paez B, Painter L, Ramos A, Rosero-Peña MC, Schmink M, Sist P, ter Steege H, Val P, van der Voort H, Varese M, Zapata-Ríos G (Eds). United Nations Sustainable Development Solutions Network, New York, US.