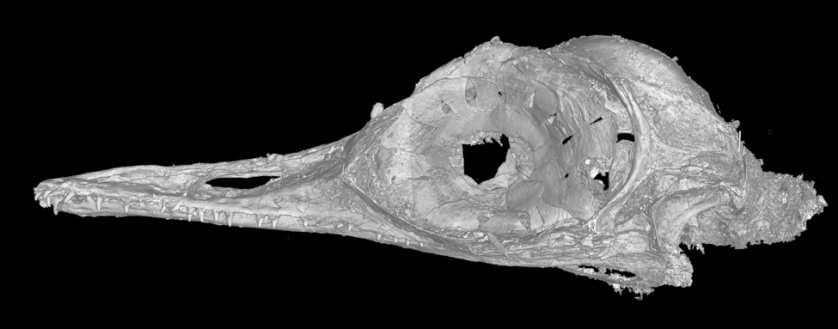A epidemia do novo coronavírus gera muitas perguntas. De onde veio o vírus? Como (e com qual rapidez) a doença que ele causa se espalha? Como nosso sistema imune pode derrotá-lo? Remédios ou vacinas são viáveis? Não são perguntas quaisquer: as respostas vão informar políticas públicas. Se as políticas forem bem implementadas, fazendo uso correto das respostas encontradas, vidas serão salvas.
As respostas virão do trabalho de cientistas. O caminho que será percorrido é cheio de desafios, e o sucesso não é garantido. Entretanto, para responder a perguntas sobre o novo coronavírus, a ciência é nosso melhor instrumento. Dada a importância da ciência nesse momento de nossas vidas, cabe perguntar: como a ciência consegue construir o conhecimento a respeito do coronavírus?
De onde veio o vírus?
Nos primeiros momentos da epidemia, amostras de pacientes foram colhidas e o genoma do vírus foi sequenciado. A partir dessas sequências, foram construídas filogenias, que são árvores que expressam o parentesco do novo vírus com outras espécies. Essas análises evolutivas mostraram que o novo vírus é muito semelhante a tipos de coronavírus que infectam pangolins e morcegos. O vírus presente em animais silvestres sofreu mutações, e essa versão modificada tornou-se eficiente para infectar humanos.
Há muito conhecimento prévio embasando esses estudos. Há décadas usamos sequências de DNA para inferir a história evolutiva de diferentes espécies, sejam vírus, plantas ou animais. Essas análises usam ferramentas computacionais e matemáticas, desenvolvidas por biólogos, estatísticos e cientistas computacionais. A compreensão de que vírus de animais podem invadir humanos é outro tema intensamente estudado, e o alarme já foi soado várias vezes para a seriedade dessa ameaça. A rápida identificação das linhagens que chegaram ao Brasil foi feita por análises genômicas conduzidas por pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical e do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, graças a experiência adquirida em estudos anteriores com o vírus Zika.
O sucesso em rapidamente identificar o vírus causador das pneumonias nos hospitais de Wuhan só existiu porque a ciência já possuía uma sólida base no sequenciamento e na análise de genomas, no estudo de evolução viral e em análises epidemiológicas. E, no caso do esforço brasileiro para sequenciar o vírus, vale acrescentar: o trabalho foi possível porque duas pós-doutorandas, que recebem bolsa de estudos, estavam treinada e prontas para fazer as análises.
Com que velocidade a doença se propaga?
Essa talvez seja a principal pergunta que enfrentamos nessa crise. Se o vírus se propagar lentamente teremos tempo e condições de tratar os doentes, e a crise será mais tolerável. Entretanto, uma propagação rápida irá sobrecarregar o sistema de saúde, e a mortalidade será elevada. Então é crítico responder: com base no que sabemos sobre o comportamento do vírus, quantos novos infectados esperamos na próxima semana? Como reduzir a taxa de propagação da doença? Para responder a essas questões, usamos modelos matemáticos que conjugam fatores que determinam a taxa de propagação: o número de pessoas que um indivíduo contaminado infecta, a facilidade de contágio, a frequência com que pessoas interagem, e o grau de imunidade na população. De posse dessas informações, fazemos contas e usamos simulações para fazer as previsões.
As previsões da propagação da doença feitas pelos modelos são imensamente importantes para políticas de saúde pública. Um trabalho feito por pesquisadores do Imperial College previu que haveria uma imensa sobrecarga no sistema de saúde do Reino Unido, a não ser que medidas rígidas de distanciamento social fossem impostas. Esse trabalho influenciou governantes do Reino Unido e dos Estados Unidos, que passaram a apoiar medidas mais efetivas de distanciamento social. Tal estudo só foi possível porque havia um grupo de pesquisadores treinados em epidemiologia, com conhecimentos computacionais e matemáticos. O pesquisador que liderou o trabalho do Imperial College é formado em física teórica, um campo extremamente matemático e que também lida com dados cheios de incertezas.
A eficácia das rígidas restrições a deslocamentos implementadas na China neste ano também já foi avaliada num estudo científico. Utilizando dados sobre deslocamentos individuais, fornecidos pela Baidu (uma empresa chinesa de telecomunicações), um grupo internacional mostrou que a redução na mobilidade está relacionada com o decréscimo na taxa de expansão do vírus. Novamente, é interessante notar que o cientista que liderou a pesquisa é professor num departamento de zoologia, e utiliza abordagens ecológicas evolutivas no estudo de doenças infecciosas.
Aqui no Brasil também há grupos trabalhando na modelagem da COVID-19. Na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), um grupo do Programa de Computação Científica modelou o impacto do isolamento. Um outro grupo, que reúne médicos e epidemiologistas da UnB, UFRJ e USP, fez uma nota técnica sobre diferenças entre municípios brasileiros na propagação da doença. Um grupo baseado em São Paulo vem divulgando publicamente prognósticos para a doença, com base em seus modelos matemáticos. Nessa equipe, há físicos, ecólogos, e evolucionistas. Novamente, o mesmo recado: pesquisadores formados em diversas áreas – algumas distantes das áreas médicas ou do estudo de vírus – possuem conhecimentos que, reunidos, ajudam a alcançar respostas sobre a pandemia.
Teremos remédios?
Para decidir quais drogas devemos usar, precisamos entender como cada uma funciona, como interagem com as moléculas do vírus, e quais drogas existentes são seguras. Um grupo do Laboratório Nacional em Biociências está triando milhares de fármacos, em busca daqueles que, de acordo com simulações computacionais de interações moleculares, podem interferir em proteínas essenciais para a reprodução do vírus. Alvos promissores serão testados em células infectadas pelo coronavírus. Nessa empreitada, estão unidos pesquisadores especializados em biologia computacional, modelagem molecular, bioquímica, biologia celular e virologia. Outra frente envolve testar a eficácia de drogas previamente empregadas para outras doenças, mas cuja eficácia ou segurança para tratar o COVID-19 ainda é desconhecida, como é o caso da cloroquina. No Brasil, novos tratamentos com drogas já conhecidas estão sendo testados para a COVID-19, em trabalhos que envolverão 18 laboratórios, coordenados pela FIOCRUZ. Para comprovar a eficácia de uma droga, dependemos de especialistas em farmacologia, estatística, saúde pública e ética em pesquisa. Sem profissionais treinados nessas diversas frentes e sem instituições de pesquisa bem organizadas e financiadas, não avançamos.
Conseguiremos produzir uma vacina?
Muitas doenças humanas foram essencialmente erradicadas pelo emprego de vacinas. Conseguiremos o mesmo feito com a COVID-19? Neste exato momento há muitos grupos de cientistas tentando desenvolver uma vacina. Um deles é a equipe do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, em São Paulo.
A estratégia desse grupo é imunizar as pessoas com proteínas que são semelhantes às do vírus, estimulando o corpo a produzir anticorpos e células imunes especializadas em atacar e neutralizar o invasor. Qual proteína viral usar? Eles apostam numa que está presente na cápsula viral, sendo justamente aquela usada pelo coronavírus para entrar nas células humanas. A estratégia vai funcionar? Não sabemos. Isso depende de como a proteína é capaz de ativar o sistema imune, da segurança de injetá-la em humanos e também da duração da imunidade gerada. Somente investigando poderemos saber a resposta.
Sabemos que qualquer chance de chegar a uma vacina só existe porque há uma comunidade científica altamente treinada — tanto no exterior, quanto no Brasil — com experiência em imunologia e bioquímica. Se não houvesse especialistas nessas áreas no Brasil, se seus laboratórios não estivessem equipados e suas equipes treinadas e financiadas, não poderíamos participar desse processo.
Dá para tolerar a pseudociência?
Há outra forma, distinta do recurso à ciência, para responder às perguntas sobre o coronavírus e a COVID-19? Respostas que recorrem ao sobrenatural podem trazer conforto a alguns, funcionar como placebo a outros, mas não vão gerar vacinas eficazes, não vão fazer predições precisas sobre a taxa de expansão viral, não vão permitir que drogas tenham sua eficácia testada. A ciência não é a única forma de ver o mundo, e tampouco nos dá todas as soluções, mas ela é capaz de oferecer respostas instrumentais e poderosas no processo de tomada de decisões.
Diante do atual cenário de pandemia, é curioso lembrar que há dois meses uma das mais sólidas áreas do conhecimento científico, a teoria da evolução, foi atacada num artigo publicado na Folha de São Paulo (ao qual eu e outros respondemos). O autor do ataque, Marcos Eberlin, é um criacionista, e crê que as formas vivas na terra são fruto do trabalho de um “planejador”, cuja identidade não conhecemos. Suas críticas à teoria da evolução são uma série de argumentos pseudocientíficos, sequer endossados por teólogos ou religiosos. Eberlin é coordenador do “Núcleo de Pesquisa de Design Inteligente”, sediado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O que esse núcleo de pesquisa anti-evolucionista produziu recentemente? Não se tem notícia de que algo útil para enfrentar o coronavírus tenha saído de lá.
Por que retomo esse frustrante negacionismo científico, dirigido à evolução, no contexto da COVID-19? Retomo porque a pseudociência não ajuda em tempos de crise, apenas confunde. Há como rejeitar evolução, mas ao mesmo tempo usar uma árvore filogenética para entender a origem e evolução do vírus? Rejeitar a seleção natural e investigar a resistência às drogas antivirais? Impossível. Não dá para negar evolução e ao mesmo tempo querer que a ciência nos ajude num momento de apuro. Afinal, a ciência que nos ajuda a lutar contra o vírus é a mesmíssima que sustenta a teoria da evolução. Negando-se uma, nega-se a outra. Nesse momento de crise devemos entender finalmente que é importante que recursos públicos não sejam desviados da ciência para a pseudociência. Devemos também entender que, sem apoio à sua comunidade científica, nas mais diversas áreas, inclusive nas ciências humanas e sociais, um país fica privado de dar resposta a muitas ameaças, como as novas doenças que nos acometem. Não financiar a ciência nacional é correr riscos.
Seis lições vindas de uma pandemia
É preciso reconhecer a importância da ciência, pois ela nos traz informação baseada em evidências, fundamentais para a tomada de decisões.
Precisamos afastar a pseudociência, que confunde e distrai, tirando nosso foco das questões que devem nos ocupar.
É preciso entender — agora e no futuro — que apoiar a ciência não consiste apenas em despejar recursos para resolver o problema que agora se apresenta (ainda que esses recursos sejam necessários). A resolução de problemas depende de uma comunidade científica previamente treinada, cobrindo uma gama ampla de especialidades, e com recursos para manter seus laboratórios e equipes. Sem essa base, não há como esperar resultados a curto prazo.
Os caminhos da ciência não são lineares. Investimento em física teórica forma pesquisadores que modelam pandemias. Treinamento em teoria evolutiva permite a compreensão da origem do novo coronavírus. Pesquisa em ciências humanas e sociais ajudam a entender a tomada de decisão e os comportamentos das pessoas. Pesquisa filosófica nos auxilia a entender e, fundamentalmente, a lidar com dilemas éticos que uma situação de crise, como a de uma pandemia, nos apresenta. Para resolver problemas complexos precisamos de um amplo leque de disciplinas.
De fato, as humanidades e as ciências sociais— tão atacadas pelo atual governo, por serem supostamente “pouco úteis” — dão contribuições cruciais. Na hora de definir estratégias de isolamento, é essencial saber a densidade populacional em diferentes bairros, a composição típica das famílias em diferentes classes sociais, a distribuição etária em diferentes regiões do país e do mundo, a melhor estratégia de transmitir conhecimento ao público. É necessário aprender com pandemias passadas, como a gripe espanhola de 1918, investigando os erros e acertos daquela época. Esses desafios são o domínio de geógrafos, demógrafos, sociólogos, educadores, historiadores e filósofos.
Finalmente, é preciso ser crítico e atento aos limites da ciência. Por exemplo, os modelos matemáticos usados para prever a propagação da doença não são precisos. Isso é esperado: os modelos dependem dos dados de que dispomos, que muitas vezes são imperfeitos, como é o caso do número real de infectados em cada país, ou a facilidade com que os indivíduos se tornam imunes. Essas incertezas tornam mais difícil o processo de tomar decisões. Ainda assim, é importante que governantes saibam que as decisões baseadas em ciência, mesmo carregando incertezas, são preferíveis à alternativa de decisões sem embasamento científico, fundamentados somente em opiniões e preconceitos.
O recado é claro: uma sociedade com cientistas bem treinados, instituições científicas bem equipadas e financiadas, e com investimento na educação de jovens, habilitando-os a serem os cientistas de amanhã, estará mais preparada para enfrentar crises. Neste momento vivemos a pandemia do novo coronavírus. No futuro, poderá ser outra doença, o aquecimento global, ou os efeitos da poluição.
Diogo Meyer
Universidade de São Paulo
Sugestões de Leitura
“The proximal origin of SARS-CoV-2”, de Kristian G. Anderson e coautores, publicado na Nature Medicine em 17 de março.
É um artigo que situa o novo coronavirus em relação àqueles que infectam outras espécies.
“Why Trust Science?” De Naomi Oreskes. Princeton University Press, 2019.
Um livro livro discute a forma como a confiança no conhecimento científico é construída.
“Imune” de Matt Richtel. Harper Collins, 2019.
Um livro que apresenta de modo acessível os princípios básicos do funcionamento do sistema imunológico