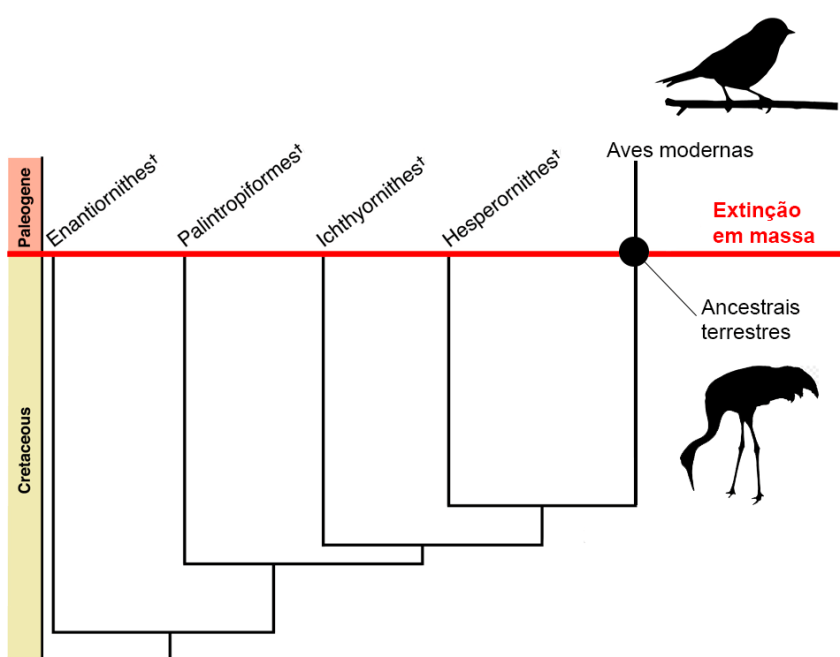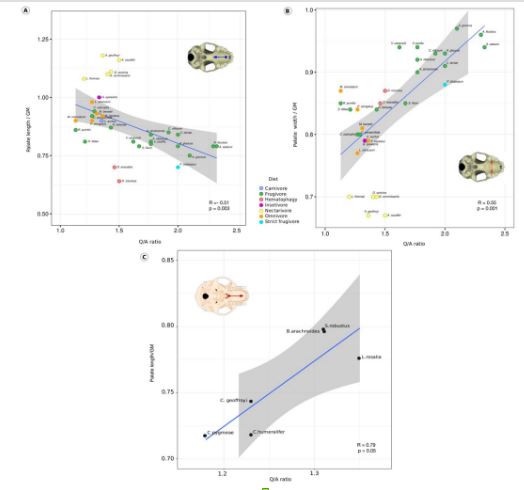Como discutimos em postagem anterior do Darwinianas, tem sido defendida a importância da integração de conhecimentos científicos e tradicionais para a proposição de abordagens de conservação e manejo sustentável bem-sucedidas. Considerando a relação entre conhecimentos científicos e locais/tradicionais e usando tipologia proposta por Stephan Rist e Farid Dahdouh-Guebas, isso implica ir além do desconhecimento de práticas baseadas em conhecimentos locais, bem como evitar determinadas atitudes: por exemplo, utilitaristas e neocoloniais, que somente se apropriam de elementos do conhecimento tradicional que parecem úteis de perspectiva científica, por vezes ferindo direitos de propriedade intelectual; paternalistas, que buscam “atualizar” conhecimento tradicional com base na ciência; e essencialistas, que entendem conhecimento tradicional como inerentemente superior e visam preservá-lo tal como é, como se fosse alguma peça de museu.
De uma perspectiva focada na integração de diferentes formas de conhecimento, a atitude mais apropriada é uma que pode ser denominada intercultural, que visa construir amplas vias de interação e diálogo entre formas de conhecimento, almejando tanto um conhecimento integrado, quanto – de um posicionamento que é tanto ético quanto político – o empoderamento de comunidades tradicionais.
Entre as muitas questões postas por e para uma perspectiva intercultural, temos a de que integração e diálogo entre formas distintas de conhecimento requer engajar-se em diálogo inter-ontológico. Isso porque toda forma de conhecimento implica alguma teoria sobre “como as coisas são”, alguma ontologia que estabelece qual seria a mobília do mundo, o que se supõe existir no mundo, quais objetos e/ou processos, ou, em termos mais gerais, o que é o ser e em quais categorias o ser se divide. Uma ontologia é fundamental, por sua vez, para uma epistemologia, isto é, para a teoria que assumimos sobre o que é o conhecimento e o que é mera opinião, e os critérios que podemos usar para distinguir conhecimento de opinião. E, como o que conhecemos é determinante para nossos juízos sobre o que existe, uma ontologia também é dependente de alguma epistemologia. Epistemologia e ontologia se determinam mutuamente, portanto. Se assumimos, por exemplo, uma visão ontológica que dá prioridade a coisas, e não a processos, isso implica um modo de produzir e julgar conhecimentos que dá prioridade ao que podemos saber sobre coisas e as partículas que as constituem. Mas, ao mesmo tempo, se produzimos com sucesso conhecimentos sobre coisas e partículas, isso reforça uma ontologia que dá prioridade a estas categorias do ser. Ainda que seja claro que ontologia e epistemologia se codeterminam, permanece importante termos clareza sobre quando estamos falando de ontologia, do que se supõe que existe, e de epistemologia, do que se supõe ser conhecimento.
Se estamos envolvidos em negociação social e aprendizagem coletiva de distintas partes interessadas sobre alguma questão, no nosso caso, conservação, as quais buscam uma integração de seus conhecimentos, então naturalmente estamos participando de um diálogo inter-epistemológico (entre formas de conhecimento). Mas, dada a codeterminação de epistemologia e ontologia, estamos também engajados num diálogo inter-ontológico. Chegamos então à questão que será central no restante dessa postagem: Dada a complexidade e a dificuldade de um diálogo inter-ontológico, como engajar-se nele? Como reconhecer, em particular, os limites e as possibilidades de integração de epistemologias e ontologias distintas? E o que fazer quando encontramos limites, quando esgotamos nossas possibilidades de integração?
Para dar uma resposta qualificada a essas questões, é necessário ter alguma teoria sobre como se dá um diálogo entre ontologias. Nosso interesse recai, a partir desse ponto, em elementos que nos permitam dar passos na direção de tal teoria.
Elementos de uma teoria sobre diálogo inter-ontológico
Muito se tem escrito sobre promessas de integração de conhecimentos científicos e tradicionais, por exemplo, em campos como a conservação. Contudo, há também ceticismo sobre as possibilidades de tal integração, por razões epistemológicas (isto é, que dizem respeito à natureza do conhecimento) e sociopolíticas. Em termos epistemológicos, projetos de integração parecem otimistas demais ou de escopo demasiado estreito. Ou seja, ou se espera de tais projetos mais do que seria razoável, pela complexidade do próprio diálogo que se está buscando construir, ou o que se busca integrar é parcela reduzida dos conhecimentos em diálogo. São comuns, por exemplo, propostas de integração que privilegiam apenas porções do conhecimento tradicional que são mais prováveis de ser integrados ao conhecimento científico, especialmente por razões utilitaristas, negligenciando aquelas porções que resistem à integração.
Esse último aspecto implica razões sociopolíticas. Projetos de integração tendem a focar em aspectos convenientes do conhecimento tradicional que podem ser tratados apenas como dados para pesquisa científica, como acontece, por vezes, na etnobotânica e etnofarmacologia. A questão é sociopolítica porque, em vez de empoderar comunidades tradicionais, estes projetos tendem a reproduzir posições hierárquicas que submetem o conhecimento destas últimas ao conhecimento científico, e a desconsiderar conhecimentos que são importantes para tais comunidades mas não satisfazem necessidades de cientistas, gestores, empreendedores.
Um modo de considerar de maneira produtiva o ceticismo quanto à integração de formas de conhecimento distintas, e ao mesmo tempo sondar suas possibilidades, é construir alguma teoria que busque dar conta tanto das possibilidades quanto das limitações da integração. Elementos dessa teoria foram apresentados em artigo recente pelo filósofo da biologia David Ludwig.
Ludwig toma como ponto de partida para sua teoria a noção de “tipos naturais” e exemplos de convergência na classificação dos seres vivos (ou seja, convergência taxonômica) de diferentes culturas, frequentemente documentada em estudos sobre etnobiologia. Por exemplo, comunidades Tzeltal Maya e zoólogos têm conhecimentos muito diferentes sobre onças e as denominam de maneira diferente (Balam e Panthera onca). Mas não há qualquer controvérsia sobre o fato de que ambos se referem aos mesmos seres vivos, as onças. Este é um claro caso de convergência taxonômica. Considerando-se que ambos se referem à mesma espécie mas possuem conhecimentos distintos sobre ela, tornam-se evidentes as possibilidades e os possíveis benefícios da integração dos conhecimentos de Tzeltal Maya e zoólogos.
Para explorar esses aspectos, Ludwig se apoia numa teoria clássica sobre tipos naturais, proposta pelo filósofo britânico John Stuart Mill, para gerar um modelo sobre superposição ontológica, ou seja, convergências entre ontologias assumidas por diferentes grupos humanos (as quais são sempre parciais).
Mas o que são tipos naturais? Tratam-se de agrupamentos de objetos similares, que compartilham sempre qualidades particulares, não importa se humanos conhecem ou não os objetos e as qualidades. J. S. Mill sugeriu que “tipos reais” têm um número inexaurível de propriedades: em seu System of Logic (Sistema de Lógica), ele argumentou que o conhecimento que temos das propriedades de um tipo nunca é completo. Assim, estamos sempre descobrindo e, mais do que isso, esperamos sempre descobrir novas propriedades. Ora, assumindo-se que um tipo natural tem um número inexaurível de propriedades e que diferentes sistemas de conhecimento podem se referir ao mesmo tipo natural, segue que a integração de conhecimentos frequentemente oferecerá acesso a diferentes subconjuntos de propriedades e, por conseguinte, a uma compreensão mais ampla do tipo natural. Este é o caminho que Ludwig explora para justificar as possibilidades e os benefícios da integração de conhecimentos científicos e tradicionais.
Contudo, Ludwig tem um problema. Há muito debate filosófico sobre tipos naturais e, para piorar a situação, teorias recentes a respeito parecem tanto resolver quanto criar problemas a respeito dessa noção. Não é difícil entender por que. Para ser breve, num mundo entendido de maneira histórica e dinâmica, como estabelecido por visões transformacionistas, a exemplo do darwinismo na biologia, é estranho apelar a uma noção como a de tipos naturais. Ela parece reminiscente de um pensamento essencialista que não é compatível com visões dinâmicas do mundo como as que são largamente aceitas hoje (e não somente nos meios científicos). Um aspecto central da teoria evolutiva moderna é o pensamento populacional. De acordo com esse modo de pensar, cada espécie é uma coleção de indivíduos com muitas diferenças genéticas, sendo essas diferenças transmitidas para as gerações futuras em novas combinações, o que leva as populações a mudarem de geração em geração. Não há, ademais, um limite superior para a quantidade de mudança evolutiva que pode ter lugar em uma espécie. Ela pode ser transformada em sua aparência, em seu comportamento, em sua constituição genética, mas ainda assim permanecer a mesma espécie. Visões essencialistas, que apelam a tipos naturais, estão mal situadas diante da variação dentro das espécies.
Mas isso é mesmo correto? Qualquer um que use um guia de identificação, por exemplo, de aves, certamente utilizaria características que identificam as aves, as quais parecem estabelecer a espécie da ave identificada como se fosse ela um tipo. Esta não é, contudo, a interpretação correta desse fato. Se um guia de aves apela, digamos, às características da plumagem ou do bico para diferenciar duas espécies de aves, isso não significa que estas características identificadoras sejam universais, ou mesmo essenciais, nem no espaço, nem no tempo. Num dado tempo, estas características raramente são verdadeiramente universais, ou seja, encontradas em todos os indivíduos de uma dada espécie, e ao longo do tempo, estas características podem mudar. Um sanhaço-do-coqueiro (Tangara palmarum) estatisticamente atípico é, ainda assim, um sanhaço-do-coqueiro. Mais do que isso, ele pode ser o precursor de uma nova linhagem de sanhaços-do-coqueiro que será comum no futuro, ou um sobrevivente de uma linhagem de sanhaços-do-coqueiro do passado. Não segue, portanto, do fato de que podemos reconhecer com confiança muitas espécies num dado tempo e espaço que exista alguma essência invariante de uma espécie, que possa torná-la um tipo natural.
Essas são dificuldades notáveis. Como Ludwig faz para superá-las? Ele recorre a uma suposição largamente compartilhada pelas teorias atuais sobre tipos naturais, portanto, não controversa. Tipos naturais frequentemente se referem a conjuntos de propriedades descobertos através da experiência. Em particular, esta suposição explica bem o modo como funciona a classificação etnobiológica, ao passo em que não é estranha a uma explicação da classificação científica. Quando pescadores da comunidade de Siribinha, no Litoral Norte da Bahia, identificam duas etnoespécies de maçaricos, maçarico-grande e maçarico-pequeno, eles se apoiam para essa identificação em conjuntos de propriedades descobertos em sua experiência com esses animais. Obviamente, uma propriedade importante para diferenciar as etnoespécies é o tamanho, mas há também propriedades compartilhadas que permitem identificar ambas como pertencentes ao etnogênero maçarico, atributos de sua plumagem, de sua morfologia, de seu comportamento, de suas preferências alimentares, e assim por diante. Sem se comprometer com teses que tornariam essas propriedades compartilhadas fundamentos para identificar essências características das espécies (já que elas são variáveis e mutáveis), podemos entender como conjuntos de propriedades fundamentam práticas taxonômicas científicas e tradicionais.
O reconhecimento da mesma espécie a partir de diferentes perspectivas culturais é possível exatamente por causa destas propriedades compartilhadas, que percebemos em nossas experiências e usamos para distinguir organismos. Por exemplo, Tzeltal Maya e zoólogos ambos reconhecem onças porque percebem conjuntos compartilhados de propriedades, em suas estruturas ósseas, em seus padrões na pelagem, em seus comportamentos, em seus papeis ecológicos… Eles certamente se interessam por diferentes aspectos em seus conhecimentos sobre estes animais e, evidentemente, os interpretam a partir de distintas bases culturais. Mas isso não impede o reconhecimento da mesma espécie por eles.
Conjuntos de propriedades descobertas pela experiência também oferecem uma explicação simples e efetiva do que podemos denominar “superposição ontológica”, ou seja, um compromisso compartilhado quanto à existência dos mesmos organismos (por exemplo, onças) e inclusive de propriedades desses organismos (como o padrão de pelagem característico de uma onça) por sujeitos de distintas formas de conhecimento. Eles também explicam por que apelamos frequentemente a características identificadoras, e ao ponto de nos comprometermos com tipos naturais em nossos modos de conhecer, malgrado suas dificuldades filosóficas. Embora a presença de propriedades típicas não garanta a presença de um tipo e vice-versa, o que explica estas dificuldades, a conexão entre propriedades e espécies ainda é estável o suficiente para permitir inferências robustas. Ela permite inferir tipos a partir de propriedades: Por exemplo, se sabemos que um organismo se comporta de certas maneiras ou tem certo padrão de pelagem, podemos prever que seja uma onça. Assim como permite inferir propriedades a partir de tipos: Por exemplo, se sabemos que um organismo é uma onça, podemos inferir que provavelmente terá certas propriedades comportamentais e morfológicas. E também propriedades a partir de propriedades: Por exemplo, conhecimento sobre estrutura dentária de um organismo permite prever modos como se alimenta.
Considerando tais conjuntos de propriedades, pode ser formulado um modelo simples de integração de conhecimentos. Tzeltal Maya e zoólogos se referem ambos a onças, mas têm conhecimentos diferentes sobre propriedades desses animais. Apenas zoólogos conhecerão certas propriedades genéticas e anatômicas das onças. Apenas Tzeltal Maya conhecerão o cheiro das fezes de uma onça ou hábitos de caça de uma população local de tais animais. A integração dos conhecimentos científicos e tradicionais é produtiva se oferece descrição mais ampla do conjunto de propriedades associado a uma espécie, por exemplo, as onças, e/ou se permite maior número de inferências, pela soma de inferências únicas de cada sistema, e/ou se leva a inferências novas, por exemplo, a novas previsões. Este último caso, especialmente interessante, ocorre quando propriedades conhecidas apenas por um ou outro dos sistemas de conhecimento somente são suficientes para uma determinada inferência quando juntas.
O modelo proposto por Ludwig oferece maneira fértil de lidar com o diálogo inter-ontológico. Dois exemplos citados por Ludwig permitem ilustrar o potencial da integração de conhecimentos, em termos da geração de novos conhecimentos e práticas, com base nesse modelo. Raposas-do-ártico têm extensa distribuição na tundra, mas populações locais usam diferentes estratégias de alimentação, havendo limites importantes no conhecimento científico sobre a alimentação desses animais no inverno. A comunidade Inuit de Mittimatalik, no norte da Ilha de Baffin, Canadá, tem extenso conhecimento sobre a fauna local, incluindo raposas-do-ártico. Por exemplo, especialistas tradicionais Inuit identificaram 2 estratégias de caça (marinha e terrestre) usadas por esses animais, assim como diferenças na pelagem relacionadas a essas estratégias. Este conhecimento foi integrado ao conhecimento científico, expandindo a compreensão de biólogos sobre esse animal. Como explica o modelo de Ludwig, Inuit e biólogos se referem ao mesmo tipo biológico, que denominam Tiriganiarjuk e Alopex lagopus, respectivamente. Contudo, conhecem propriedades diferentes e, assim, diálogo inter-ontológico e integração são produtivos. Inuit conhecem aspectos locais como estratégias de alimentação de Tiriganiarjuk e biólogos conhecem propriedades (por exemplo, anatômicas) que são encontradas de maneira geral nas populações de Alopex lagopus.
Mas qual poderia ser a importância de tal integração? Outro exemplo permite responder essa questão. O estabelecimento de uma política de cotas para captura de Baleias-da-Groenlândia (Balaena mysticetus) no Alaska, em 1977, ilustra a contribuição do conhecimento tradicional para uma política de conservação, uma vez integrado ao conhecimento científico. Para estabelecer as cotas de captura, cientistas realizaram censo por contagem visual, que levou a uma estimativa inicial de uma população de menos de 3.000 baleias. No entanto, baleeiros tradicionais questionaram essa estimativa, por não ter considerado baleias que migram sob o gelo quando fraturas no gelo se fecham. Um novo censo foi realizado, incorporando conhecimento local sobre migração das baleias, tendo alcançado estimativa mais precisa. A população local foi estimada em 6.000 a 8.000 baleias, com implicações evidentes para a política de cotas. Apenas a integração de conhecimento local e científico permitiu, assim, estimativa populacional acurada, ilustrando a fertilidade da integração desses conhecimentos e suas implicações práticas para a conservação. Além disso, esse caso mostra como essa integração pode resolver conflitos socioambientais e trazer benefícios diretos para comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que propicia condições para manejo sustentável. O modelo de Ludwig explica apropriadamente também esse caso: Baleeiros tradicionais e biólogos se referem ao mesmo tipo biológico (Bowhead Whale e Balaena mysticetus), mas, como conhecem propriedades diferentes, o diálogo inter-ontológico e a integração de seus conhecimentos foram produtivos.
Esses exemplos mostram convergências parciais entre ontologias científicas e tradicionais, que levam a integração bem-sucedida e fértil, em termos cognitivos e instrumentais. Contudo, é evidente que há também situações de divergência entre tais ontologias. É necessário, assim, inquirir em que medida um modelo como aquele proposto por Ludwig ajuda a entender também como integração é limitada por divergência ontológica e, em particular, o que sugere quanto à atitude que se mostraria mais apropriada em situações em que se observa tal divergência. Este é, contudo, um caminho que devemos deixar para trilhar em postagens futuras. Por ora, esperamos ter mostrado, de um lado, como propostas de integração de conhecimentos devem ter na devida conta dificuldades suscitadas pelo requisito de diálogo inter-epistemológico e inter-ontológico e, de outro, como compreensão teórica, tal como aquela suscitada pelo modelo proposto por Ludwig, tem papel importante no avanço de nossa compreensão das possibilidades de tal diálogo. Resta agora considerar seu papel no entendimento dos limites da conversa entre distintas formas de ver e conhecer o mundo.
Charbel N. El-Hani
Instituto de Biologia/UFBA
PARA SABER MAIS:
Gagnon, C., & Berteaux, D. (2009). Integrating traditional ecological knowledge and ecological science: a question of scale. Ecology and Society, 14(2): 19.
Huntington, H. (2000). Using traditional ecological knowledge in science. Ecological Applications, 10, 1270-1274.
Ludwig, D. (2016). Overlapping ontologies and Indigenous knowledge. From integration to ontological self-determination. Studies in History and Philosophy of Science 59: 36-45.
Pierotti, R. & Wildcat, D. (2000). Traditional ecological knowledge: The third alternative. Ecological Applications 10: 1333-1340.
Rist, S. & Dahdouh-Guebas, F. (2006). Ethnosciences––A step towards the integration of scientific and indigenous forms of knowledge in the management of natural resources for the future. Environment, Development and Sustainability 8: 467-493.
Tengö, M. et al. (2017). Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—lessons learned for sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability 26-27:17–25.
Imagem na abertura: Inuit reunidos para refeição em iglu em Mittimatalik, Ilha de Baffin, Canadá. Fotografia obtida do filme Land of the Long Day, 1952, reproduzida em Qikiqtani Truth Commission: Community Histories 1950-1975, Qikiqtani Inuit Association, disponível aqui.