Vou iniciar o texto falando de algo mais literário, filosófico e poético: “Eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos.” Essa frase foi dita pela personagem Raposa, no livro clássico infantil O Pequeno Príncipe, escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944).
Falei isso para confessar que enxergo beleza, criei laços e fui cativado por seres que normalmente estão fora do nosso campo de visão, mas que caminham junto com a gente, num processo coevolutivo, civilizatório e inebriante. Esse grupo extremamente diversificado, conhecido como microrganismos, realiza processos fundamentais nos ecossistemas ou nos agroecossistemas. Promovem a ciclagem de nutrientes, a fertilidade e estruturação dos solos, bem como o desenvolvimento e a saúde das plantas.
Os microrganismos, com destaque inicial para os fungos micorrízicos, foram fundamentais para que as plantas ocupassem o ambiente terrestre, há cerca de 450-400 milhões de anos. A associação micorrízica permitiu que os rizoides retirassem água e nutrientes de um ambiente “extremo”, por meio da associação com hifas fúngicas. Portanto, os ecossistemas terrestres não foram colonizados por plantas, simplesmente, mas pela associação micorrízica. Essa simbiose é um caráter ancestral que permaneceu em pelo menos 85 % das plantas vasculares, ou seja, é a condição mais comum para a grande maioria das famílias botânicas.
As micorrizas são funcionalmente críticas e impactam a distribuição global de plantas, uma vez que possibilitam o estabelecimento das pioneiras e realizam a transferência de fotoassimilados (açúcares, vitaminas e lipídeos) de plantas adultas para as juvenis, no sub-bosque de floresta tropicais densas, com pouco acesso à luz. O mesmo é válido para as orquídeas, que devido ao tamanho diminuto das sementes, não possuem tecido de reserva (endosperma) e, portanto, em condições naturais dependem de fungos micorrízicos para garantir a sua germinação e o seu crescimento, ao realizar a digestão de enovelados de hifas (chamados de pelotons), condição conhecida como micoheterotrofia.
A evolução é um processo temporal impressionante, que faz uso da bricolagem, ou seja, reaproveita coisas que já existe. Apesar da distância evolutiva, a maquinaria de reconhecimento entre plantas e fungos micorrízicos foi reutilizada na simbiose entre plantas e bactérias fixadoras de N2, a exemplo de plantas da família Fabaceae e rizóbios (Rhizobium, Bradyrhizobium etc.). Essa associação é essencial para algumas espécies florestais nativas, que dependem do mutualismo para manter seu fitness em ambientes com deficiência de nitrogênio. Assim, devido aos processos coevolutivos, mesmo em condições otimizadas de viveiros comerciais essas espécies podem requerer a simbiose mutualista para sobreviver e crescer adequadamente.
Para simplificar essas informações, usarei as palavras de um produtor de mudas: “Algumas plantas precisam do colostro ou solo da planta-mãe”. Esse saber tem embasamento científico na teoria da retroalimentação positiva planta-solo, de acordo com a qual as plantas modificam o ambiente e favorecem o recrutamento de juvenis. Isso tem relação com adaptações locais e a presença de microrganismos benéficos na rizosfera, a região do solo que fica em contato com as raízes, onde há maior abundância e diversidade de microrganismos.
Assim, aos que preferem uma abordagem mais holística, podemos considerar as plantas e seus microrganismos como um holobionte, uma única unidade, com características genéticas, metabólicas e evolutivas moldadas por coevolução. Por isso, não é exagero afirmar que o futuro das nossas florestas depende dos microrganismos.
E daí? Como os microrganismos auxiliam na restauração ambiental?
Primeiramente, é preciso lembrar que a restauração ambiental é decorrente de ações humanas, que devido a impactos negativos, tornam necessário buscar a reintegração do ecossistema em seus aspectos estruturais e funcionais. Diante desse grande desafio, somado ao pouco conhecimento sobre a nossa biodiversidade, é comum se concretizarem apenas reabilitações ou recuperações ambientais. A reabilitação visa minimizar impactos negativos e desenvolver atividades alternativas, por exemplo, destinar a área para a recreação. A recuperação está associada à retomada de algumas funções, em conformidade com as condições socioambientais da área, o que permite a implantação de cultivos agrícolas, para recuperar a função produtiva.
Por enquanto, é preciso lembrar que em ecossistemas terrestres as plantas são a via basal de entrada de energia nas redes alimentares. Portanto, a revegetação é uma das principais estratégias para iniciar o processo de restauração ambiental. Apesar disso, conforme apresentado anteriormente, as plantas dependem, em maior ou menor grau, da associação com microrganismos para explorar adequadamente o solo, o que já é um grande indicativo de que são essenciais em processos de restauração ambiental.
Além do mais, os microrganismos podem ser utilizados como bioindicadores em áreas impactadas, porque respondem rapidamente a pequenas mudanças nas propriedades físico-químicas do solo. Funcionam como parâmetros sensíveis para avaliar o estresse ambiental e/ou recuperação do ambiente a curto prazo. Desse modo, geram indicativos da efetividade da revegetação, a exemplo do ocorrido após o crime ambiental da Samarco Mineração, sucessivo ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, que afetou a bacia do rio Doce.
Cabe destacar que os microrganismos desempenham importantes transformações e atuam efetivamente nos ciclos biogeoquímicos. Ao realizarem a degradação do material orgânico, mineralizam nutrientes e contribuem para o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Atuam na produção de hormônios vegetais, a exemplo do ácido indol-acético (AIA), solubilizam fosfato e fixam o N2 atmosférico, mantendo funções-chave diversas.
Os microrganismos exercem papéis importante na degradação de compostos xenobióticos (compostos químicos estranhos a um sistema ecológico específico, tais como agrotóxicos e derivados de petróleo) e na imobilização de metais pesados (p.ex., chumbo, urânio, arsênio, cádmio), comuns em áreas degradadas por indústrias e mineração. O uso de inóculo microbiano para a biorremediação de ambientes contaminados pode ser combinado com a fitorremediação. Nesses casos, são aplicados métodos de restauração ativa para acelerar e definir uma trajetória de restauração desejada. Entretanto, existem diversas dificuldades operacionais e ecológicas para reestabelecer a comunidade que habitava determinado local. A restauração de campos rupestres ferruginosos, por exemplo, que estão fortemente ameaçados pela mineração de ferro, traz a dificuldade de que esses campos apresentam muitas espécies botânicas endêmicas, de cuja Ecofisiologia conhecemos muito pouco. Isso inclui pouco conhecimento sobre o nível de dependência mutualista dessas plantas aos microrganismos associados, o que aumenta os desafios de restauração desses frágeis ecossistemas.
Os trabalhos com viveiristas na bacia do rio Doce, engajados em projetos de recuperação ambiental, têm evidenciado que diversas espécies florestais nativas, a exemplo de braúna (Melanoxylon brauna), garapa (Apuleia leiocarpa) e vinhático (Plathymenia reticulata), apresentam baixa sobrevivência e não crescem adequadamente em substratos comerciais. Estudos indicam que esses impedimentos envolvem a ausência de nossos amigos pouco visíveis, os microrganismos benéficos. Além disso, a inoculação de mudas é desejável, porque muitos microrganismos atuam na promoção do crescimento das plantas e diminuem a necessidade de adubação (Figura 1).

As dificuldades na restauração ambiental são enormes. Com isso, abrem-se oportunidades para que alguns estudiosos digam que a restauração é uma grande mentira, uma vez que existem prejuízos causados pela própria atividade de restauração. Eles entendem que a restauração funciona como um Cavalo de Tróia, sendo usada apenas como justificativa para a indústria degradar. E dizem mais, que a restauração é apenas a manifestação do sonho humano de dominar a natureza. As provocações desses estudiosos são importantes para nos lembrar que preservar é o melhor caminho. Porém, acredito que possamos reparar parte dos danos que nós mesmos provocamos. Para tanto, os microrganismos precisam ser manejados e aplicados nos processos de restauração, de modo a aumentar o sucesso na retomada da estrutura e função dos ecossistemas degradados.
Vejo que diante das dificuldades surgem oportunidades. No contexto da restauração ambiental, torna-se importante aumentar os estudos sobre as relações plantas-microrganismos. Além da prospecção para uso biotecnológico, esses estudos podem facilitar a produção de espécies florestais nativas, que dependem de associações mutualistas. Devemos considerar, ainda, a vantagem de as plantas inoculadas serem fontes de propágulos microbianos, que incluem células individuais, fragmentos de hifas ou esporos de fungos e bactérias (Figura 2).

Percebemos que não é fácil restaurar um ambiente degradado. Isso exige muito trabalho, pesquisa básica e aplicada de longo prazo, cooperação e conhecimento multidisciplinar para usar as informações de estudos de diferentes áreas. A propósito, acredito que assim como o livro O Pequeno Príncipe, os microrganismos são indutores de uma série de reflexões filosóficas e práticas. Espero que o texto possa ajudar mais pessoas a perceberem o quão nossos amigos pouco visíveis são essenciais para a restauração de áreas degradadas, o quão são essenciais para a manutenção da vida em nosso planeta. Encerrando, deixo a pergunta em aberto: O essencial é invisível aos olhos?
Paulo Prates Júnior
Departamento de Microbiologia (DMB), Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Para saber mais
Greipsson, S. Phytoremediation. Nature Education Knowledge 3, 10 (2011).
Martin, F. M., Uroz, S., Barker, D. G. Ancestral alliances: Plant mutualistic symbioses with fungi and bacteria. Science 356, 6340 (2017).
Revillini, D., Gehring, C. A., Johnson, N. C. The role of locally adapted mycorrhizas and rhizobacteria in plant–soil feedback systems. Functional Ecology 30 (2016).
Soudzilovskaia, N.A., van Bodegom, P.M., Terrer, C. et al. Global mycorrhizal plant distribution linked to terrestrial carbon stocks. Nature Communications 10, 5077 (2019).
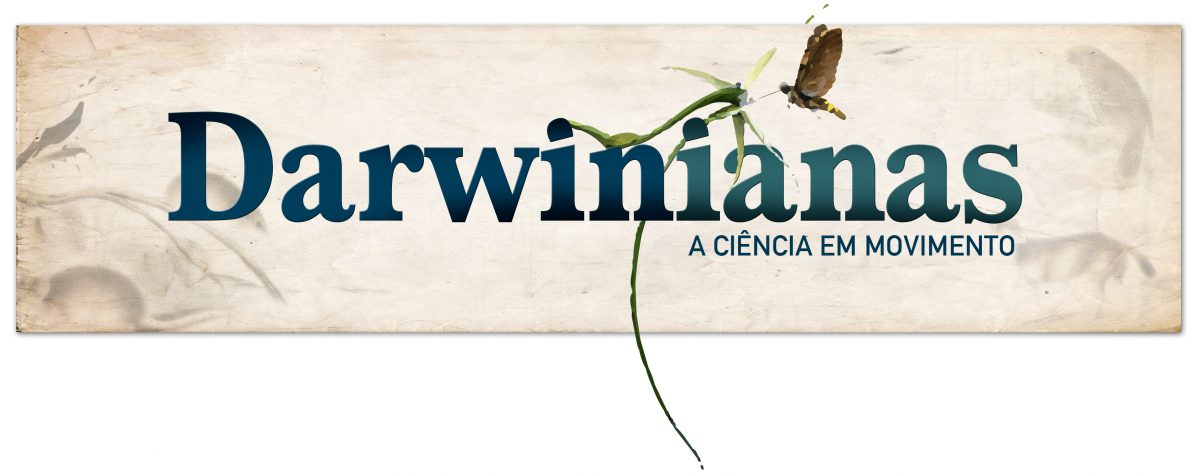

Muito bom, texto elucidativo e de fácil compreensão. Parabéns Paulo.
CurtirCurtir
Prezado Aldo Max, agradecemos muito o seu comentário e interesse no tema. O mundo microbiano embora pouco conhecido é verdadeiramente fantástico. Então, precisamos semeiar cada vez mais essas discurssões e informações no contexto das ciências agrárias e dos sistemas agroalimentares.
Abraço!
CurtirCurtir
Como posso submeter um artigo para publicação?
CurtirCurtir
Prezado José Antônio,
Sendo no Darwinianas, peço que me escreva em charbel.elhani@gmail.com
CurtirCurtir