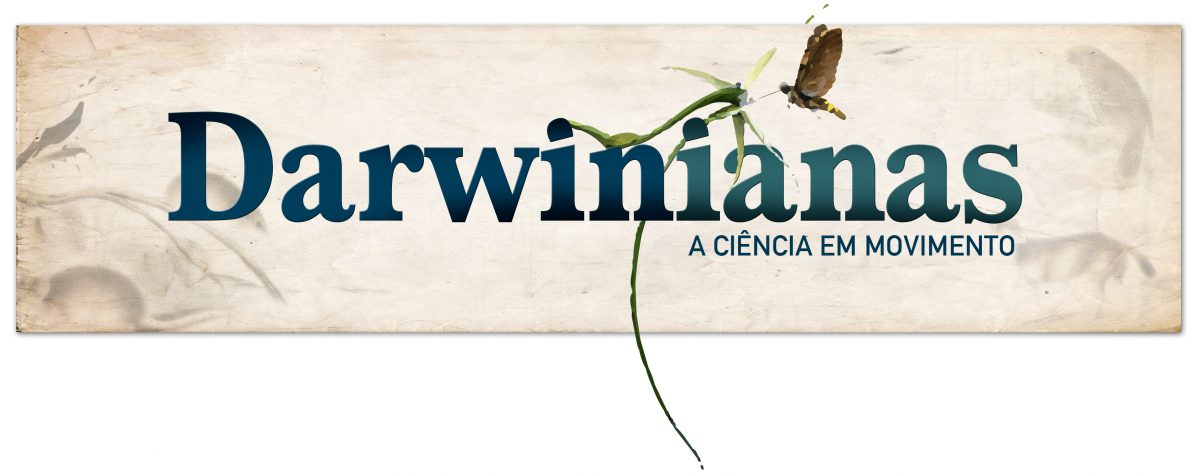Valores relacionais são elementos centrais em nossa relação com a natureza. Eles têm sido entendidos a partir de tipologias de modos de relação humano-natureza, uma das quais abordarei nessa postagem. Farei um contraponto entre modos característicos do mundo moderno e contemporâneo, como os modelos de dominação e de isolamento, e outras visões que diluem a distinção entre mundo social e natural, em especial, o modelo de troca ritualizada, característico do pensamento ameríndio. Ao fazê-lo, questionarei como e o que podemos aprender a nos defrontarmos com essa forma de entender a natureza tão distinta da nossa.

Cacique Raoni Metuktire (Kapot, Mato Grosso, c. 1932), liderança indígena que subiu rampa do planalto em janeiro de 2023, junto com Lula, ao ser empossado presidente do Brasil pela terceira vez. Foto de Valter Campanato/ABr, CC BY 3.0 BR <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en>, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cacique_Raoni_(2013).jpg
Valores intrínsecos, instrumentais e relacionais na conservação
Um dos aspectos centrais nas reflexões sobre práticas e políticas de conservação da natureza diz respeito aos nossos valores e às nossas atitudes frente à natureza. A partir dos anos 1980, na esteira do crescimento dos movimentos ambientalistas, a reflexão a este respeito foi, na maior parte do tempo, estruturada em torno da dicotomia entre valor intrínseco e valor instrumental. A biologia da conservação teve origem naquela década, sendo inicialmente concebida como uma ciência orientada para uma missão. Os biólogos da conservação sustentavam, em sua maioria, que a natureza e os seres vivos deveriam ser conservados por seu valor intrínseco, ou seja, pelo valor que eles têm simplesmente porque são o que são, porque são intrinsecamente valiosos, e não apenas porque têm valor como meio para que se faça alguma outra coisa.
Naquela mesma década, contudo, a pauta ambientalista foi sendo absorvida pelo sistema capitalista de produção e consumo, que buscou uma conciliação entre seu modus operandi e as demandas de conservação, através de fóruns internacionais de tomada de decisão, capitaneados pela ONU, que culminaram com a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito, que rendeu bem mais desenvolvimento do que conservação desde então, foi introduzido no relatório Brundtland e consolidado a partir da Rio 1992. Este processo resultou no reforço do valor instrumental da natureza e dos seres vivos e não-vivos, que, no fundo, acompanha o projeto da modernidade desde sua origem – e, inclusive, remonta a tempos mais antigos, como podemos ver em várias religiões ocidentais que também atribuem valor à natureza e aos demais seres principal ou exclusivamente devido aos benefícios que trazem a nós, humanos. Com a expansão do neoliberalismo, os valores instrumentais ganharam peso cada vez maior, dominando o cenário político e também o cenário científico, a partir de noções como as de desenvolvimento sustentável e de serviços ecossistêmicos. Se ainda persistiu um debate acadêmico em torno da dicotomia valor intrínseco-valor instrumental, nos mais variados meios sociopolíticos o valor instrumental predominou vigorosamente.
Contudo, surgiu recentemente, no campo da conservação, uma tendência conceitual que busca superar a dicotomia intrínseco-instrumental a partir da ideia de valores relacionais, que não operam isolados como valores, mas são elementos de modos de relação humano-natureza. Valores relacionais podem ser instrumentais e podem ser não-instrumentais, o que supera a dicotomia, ao incorporar a ideia de contribuição para os humanos como um elemento apenas dos valores relacionais, que ganha maior ou menor saliência a depender do modo de relação humano-natureza.
Modos de relação humano-natureza
A ideia de valores relacionais levou à construção de tipologias de modos de relação humano-natureza. Não descreverei aqui diferentes tipologias, com os modos de relação que identificam, mas apenas enfocarei alguns modos abordados pelo pesquisador brasileiro Roldan Muradian e pelo pesquisador basco Unai Pascual, em um artigo importante a este respeito.
Dois modos de relação identificados por estes autores são bem característicos do mundo europeu e do mundo colonizado que resultou de sua expansão. Um deles é o modelo de dominação, no qual há uma distinção clara entre mundo social e mundo natural, e, logo, entre humano e natureza, e a natureza é tratada como subordinada aos humanos, algo que atravessa das religiões dominantes no mundo europeu até o sistema político e de produção e consumo capitalista, que se afirmou desde a modernidade. A partir desse modelo, a natureza é entendida como uma ameaça que deve ser colocada sob controle, para servir aos humanos.
Outro modelo é o de isolamento, que mantém a distinção entre mundo social e natural, mas, para além disso, com a crescente urbanização, desacopla de tal maneira os humanos da natureza que esta última termina por tornar-se invisível. Há uma indiferença em relação à natureza e um entendimento de que ela não seria importante, malgrado nossa completa dependência dela. Mas há tantas mediações intervindo nessa dependência que a natureza se torna, para muitos habitantes dos meios urbanos, algo praticamente inexistente. Este é um modo de relação que tem sido favorecido pela ausência de experiências de natureza, especialmente entre os moradores de centros urbanos.
Esses dois modelos se contrapõem a outros que me interessam particularmente nessa postagem, porque diluem a distinção entre mundo social e natural, por exemplo, os modelos da devoção e de troca ritualizada.
No modelo de devoção, característico de culturas e religiões orientais, a natureza é entendida como uma divindade e colocada em posição hierarquicamente superior aos humanos, com uma percepção da natureza como sagrada e como meio para uma transcendência que pode unificar-nos a ela.
O modelo de troca ritualizada, por sua vez, é característico do pensamento ameríndio, que, apesar de sua diversidade, exibe também uma unidade nos diferentes povos originários das Américas, em virtude de sua origem comum (em sua maioria).
Modelo de troca ritualizada e pensamento ameríndio
No modelo de troca ritualizada, todos os seres da natureza são tratados como iguais, sem excetuar os humanos. Todos os seres da natureza são tratados como capazes de agência, de interagirem uns com os outros nos mesmos termos, como diferentes gentes. Em vez de uma visão uninaturalista e multiculturalista, dominante na modernidade ocidental e herdada por nós, há entre os ameríndios uma visão uniculturalista e multinaturalista. Todos os seres são gentes e têm suas linguagens, mas todas as linguagens usam as mesmas palavras, embora estas se refiram de maneira diferente às coisas no mundo. A mesma palavra que para nós significa sangue, para a onça significa cauim (uma bebida alcoólica tradicional dos povos ameríndios, feita através da fermentação alcoólica da mandioca ou do milho). É por isso que onde vemos lama, a anta vê sua maloca cerimonial, onde dança em seus rituais.
Muitas vezes, as pessoas pensam na visão de natureza dos ameríndios como se fosse a de um mundo em harmonia. Mas harmonia é um conceito nosso por demais. O mundo que os ameríndios percebem e experienciam parece bem mais complicado do que isso. Porque se todos os seres são gentes, toda relação no mundo natural é uma relação social, com toda a complexidade que uma sociedade traz, ainda mais povoada por gentes tantas e tão diversas. Ali as relações devem ser cuidadosas e é desse cuidado que segue o que nós, mais uma vez usando categorias que são nossas, chamamos por vezes de sustentabilidade da vida dos povos ameríndios. As trocas ritualizadas têm um papel central no modo de relação com a natureza desses povos exatamente porque elas mediam, de maneira fundamental, todo o cuidado que é preciso ter em todas essas relações. Ao nos referirmos a trocas ritualizadas, estamos tratando de situações nas quais humanos atribuem capacidade de agência a entidades naturais e, a partir disso, se envolvem em relações com elas que são regidas por códigos ritualizados de igualdade, equilíbrio e reciprocidade.
Considerem, por exemplo, os Runa, povo ameríndio da Amazônia equatoriana, com quem o antropólogo Eduardo Kohn trabalhou, tendo publicado sobre eles o livro Como pensam as florestas. Nas trocas ritualizadas desse povo ameríndio com a natureza em que vivem, eles entendem as florestas como seres pensantes. Em princípio, temos aí uma alteridade radical, como chamam os antropólogos as diferenças tão radicais na percepção e no entendimento do mundo, no que os filósofos chamam de ontologia, que se torna difícil traduzir de uma visão a outra. Para a modernidade ocidental, nós e possivelmente alguns outros poucos animais somos seres pensantes. Uma floresta, jamais!
Aprendendo a partir da diferença radical
Eu tenho trabalhado com um arcabouço teórico acerca das relações entre formas de conhecimento que tem como um de seus elementos perguntar como podemos aprender a partir de situações de diferença, de alteridade radical. E a resposta que temos dado é que aprendemos quando essas diferenças radicais desafiam nossos modos de percepção e entendimento, desafiam de tal modo, com tanta intensidade, que inauguram visões que, se impossíveis antes, agora são por nós ao menos contempláveis, dignas de atenção.
Isso foi exatamente o que aconteceu comigo quando me deparei com a ideia das florestas pensantes. Pus-me a pensar sobre como o próprio modo como entendemos a nós mesmos e ao nosso pensamento é marcado pelos modelos de relação humano-natureza ocidentais modernos. Descartes propôs, no nascimento do racionalismo moderno, que o ponto primeiro de toda a compreensão residia na afirmação “Penso, Logo Existo”. Mas, ora, isso é o contrário da ideia de que todos os seres da natureza devem ser tratados como iguais, sem excetuar os humanos. O pensamento seria a marca de nossa existência e somente isso, a mente – atributo da alma –, nos tornaria humanos. No mais, seríamos uma máquina, e todos os seres vivos, não tendo almas e mentes, não seriam iguais, mas inferiores, máquinas somente. Estamos aí muito longe da ideia de um mundo povoado por gentes tantas e tão diversas, marca central do pensamento ameríndio. Aliás, estamos longe também de outras ideias que informam modos de viver outros, como a ideia de Ubuntu, central em grande parte do pensamento africano, “Eu sou, porque nós somos”. Não, eu não sou porque nós somos, diria o moderno, eu sou porque eu penso. Mas, ora, isso é tão próprio de como nós, ocidentais modernos, pensamos o mundo todo a partir de nosso próprio umbigo, afirmando-se o homem desde a Renascença como centro do mundo, dentro de um contexto de crescente individualismo.
Ao longo da modernidade, tipicamente entendemos desta maneira o pensamento e a cognição (os processos mentais pelos quais adquirimos conhecimento e entendimento através do pensamento, da experiência e dos sentidos). Aliás, nós os entendemos também muito sob a influência de Descartes. Pensamento e cognição teriam o cérebro como sua sede e, a partir do cérebro, nós perceberíamos nosso corpo e o ambiente ao redor, criando representações deles no interior do cérebro. É bem assim que entendemos a nós mesmos, filhos e filhas que somos da modernidade ocidental.
Mas, vejam bem, eu me ponho a pensar, provocado pelo pensamento ameríndio, e aí, ao me ver desafiado a considerar as florestas pensantes, me encontro comigo mesmo, no sentido de que me vejo de repente numa posição que tem sido minha, dado que há muito rejeito o entendimento do pensamento e da cognição como se estivessem limitadas ao cérebro. Mas não me encontro idêntico ao pensamento ameríndio. Não! Ele me desafia a dar um passo a mais, antes para mim impensável. E é aí mesmo que está o aprendizado!
Entendo a cognição e o pensamento nos termos de uma corrente das ciências cognitivas que é chamada de “cognição situada”. Desde esta perspectiva, não é o cérebro apenas, ou mesmo em si, que é a sede do pensamento e da cognição. Pensamento e cognição são fundamentalmente incorporados, o que significa que pensamos e conhecemos não apenas com o cérebro, mas com todo o corpo. Ter uma mente não é, nesses termos, como ter um nariz, mas é como andar. Assim como andar, ter uma mente é relacionar-se com o mundo de certa maneira. E esta relação não é do cérebro com o mundo. É do corpo todo com o mundo. São os nossos sentidos, são os nossos movimentos, é a nossa pele…. É o corpo todo…
Mas é mais do que isso. Pensamento e cognição são também embebidos no mundo. Quando pensamos e conhecemos, exteriorizamos parte de nosso trabalho cognitivo no mundo. Nós ordenamos o mundo ao nosso redor para que possamos pensar e conhecer mais e melhor. Organizamos nossas gavetas para facilitar a escolha das roupas, exteriorizamos nossa memória em anotações espalhadas pelas casas, rotulamos o mundo com nossas palavras para facilitar saber o que é comida e o que é veneno, o que é predador e o que é presa…. Levamos isso aos últimos extremos, com mega-ordenações do mundo que exteriorizamos como se fossem representações, criando sistemas inteiros de pensamento, religiosos, científicos e outros…
Mas muitas vezes acabamos perdendo de vista que não se trata somente de perceber e representar o mundo. Trata-se de um conjunto de ações, de práticas, nas quais, incorporados e embebidos no mundo, pensamento e cognição emergem como modos de relação. Não se trata então de representar o mundo, mas de agir de certa maneira para produzir pensamento e cognição, relacionar-se de forma tão recorrente com o mundo em que exercemos nossas práticas de significação que até parece que estamos continuamente mobilizando mapas de nosso cérebro para entendê-lo. Mas não temos esses mapas como algo fixado em nossos cérebros. Vamos sempre mapeando o mundo enquanto andamos, ou enquanto navegamos por ele.
Esse modo de entender o pensamento e a cognição é dito anti-representacionalista porque dá sempre prioridade à ação e à prática situadas no mundo, que sempre são um navegar de nosso corpo embebido nas coisas. É que, como somos seres que aprendemos, a gente tende a navegar de modo recorrente, tão recorrente que até imaginamos que vivemos dentro de nosso cérebro, como o homúnculo cartesiano. Mas não é ali que vivemos. É no corpo embebido no mundo que vivemos.
Mas se seguimos por esse caminho e prestamos bem atenção ao lugar para onde estamos indo, olha que nós nos descobrimos já não tão distantes dos ameríndios! Estamos diluindo as fronteiras humano-natureza, humano-mundo! É verdade, com muita dificuldade, não com a naturalidade dos ameríndios. Mas isso é porque somos ocidentais modernos e desafiar essa visão da gente como um ser que vive, individual e isoladamente, dentro de nossa própria cachola é desafiar tudo que nós somos. Não é fácil. Mas este é exatamente o passo que somos instigados a dar quando levamos realmente a sério o pensamento ameríndio, por mais hesitante que este passo ainda seja.
Queria dar ainda uma palavra final, que é sobre construção de conhecimento. Quem constrói o conhecimento? Na visão ocidental moderna, a resposta é que, em princípio, nós construímos. Mas não apenas isso, porque há também, entre os modernos, os empiristas ingênuos, que consideram que o mundo está de alguma forma pré-rotulado, pré-conhecido, e o que nos cabe é descobrir os conhecimentos que lá estão. Afinal, é o conhecimento construção social e apenas isso? Ou é o conhecimento algo que descobrimos no mundo? O que penso é que estas não são perguntas a serem respondidas. Elas são perguntas a serem dissolvidas, porque se baseiam numa dicotomia a ser superada.
Se mudamos para uma visão de nosso ser, com seu pensamento e sua cognição, como sempre incorporado e embebido no mundo, podemos chegar à conclusão de que a construção do conhecimento se dá de todos os lados da relação. O conhecimento é co-construído por nós, humanos, com nossos corpos inteiros, e esse mundo que nos embebe. Assim, como nós, ativamente, executamos práticas que produzem significados sobre o mundo, o mundo não se apresenta a nós como uma tela branca em que podemos pintar o que quisermos. Não, o mundo é prenhe de significados. Assim, ele também é agente construtor do nosso próprio conhecimento sobre ele. Afinal, não haveria de ser diferente se nosso pensamento e nossa cognição estão embebidos no mundo! Eles são modos de relação através dos quais nós e o mundo construímos um modo de perceber e entender as coisas.
Não há dúvida de que eu começo sempre longe dos Runa e dos demais ameríndios, ocidental moderno que sou, mas, levando-os realmente a sério, eis que me encontro comigo mesmo no caminho, mas transformado pela aprendizagem que se seguiu de considerar a diferença radical não como fonte de rejeição, mas como fonte de ideias novas, tão novas para mim que há algum tempo atrás poderiam até parecer impensáveis.
Charbel N. El-Hani
(Instituto de Biologia/UFBA)
Produzido a partir de texto elaborado para oficina de imersão na natureza do projeto educacional Macaw Experiências de Natureza, na Reserva Legal Camurujipe, em 05/01/2023
PARA SABER MAIS
El-Hani, C. N. (2022). Bases teórico-filosóficas para o design de educação intercultural como diálogo de saberes. Investigações em Ensino de Ciências 27(1): 1-38.
Kohn, E. (2021). Como piensan los bosques. REUDE.
Muradian, R. & Pascual, U. (2018). A typology of elementary forms of human-nature relations: a contribution to the valuation debate. Current Opinion in Environmental Sustainability 35: 8-14.
Roth, W.-M. & Jornet, A. (2013). Situated cognition. WIREs Cognitive Science 4: 463-478.